Fica a Dica!
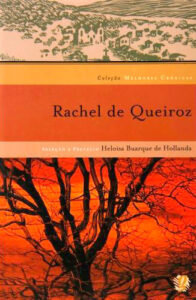 O mês junino chegando ao fim, com o retorno das festas juninas presenciais nas escolas tanto públicas como privadas. Para celebrar esse retorno trago uma crônica de Rachel de Queiroz, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, publicada no livro Rachel de Queiroz – Coleção Melhores Crônicas.
O mês junino chegando ao fim, com o retorno das festas juninas presenciais nas escolas tanto públicas como privadas. Para celebrar esse retorno trago uma crônica de Rachel de Queiroz, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, publicada no livro Rachel de Queiroz – Coleção Melhores Crônicas.
No texto, a autora escreve sobre a festa de São João para desconstruir certos preconceitos e estereótipos mantidos pelos moradores das regiões Sul e Sudeste acerca do Norte e Nordeste.
O SENHOR SÃO JOÃO
Dois amigos me sugerem uma crônica sobre o “são-joão no Norte”, comemorando o dia do Santo Batista.
Essa sugestão me dá oportunidade para comentar uma concepção muito engraçada que até entre homens e mulheres inteligentíssimos existe aqui pelo Rio e, de certo modo, em quase todo o Sul, a respeito do Norte. Parece que eles consideram o Norte, e especialmente o Nordeste, uma espécie de barraca de pastoril eternamente em festa: no Natal dançam pastoras, no Ano-Novo o boi-bumbá; dançam fandangos e cheganças, dançam os congos as suas pantomimas guerreiras, dançam-se as sortes em redor das fogueiras de São João. Dançam os maracatus no carnaval, dançam de janeiro a dezembro os candomblés. E realmente, numerando isso tudo, eu que me ia indignando e contradizendo, verifico envergonhada que realmente há muita dança e muita cantiga… Bem, mas de qualquer forma a gente daqui exagera. Leve-se em conta em primeiro lugar a imensa extensão territorial do Norte – aumentada pelas comunicações difíceis. As várias festas em geral são simultâneas, consagram uma determinada época, e o resto do ano é triste e calado. Sergipe é bem longe do Maranhão, Belém fica a mais de uma semana de Manaus. Só o Recife é uma espécie de capital de Maceió e Paraíba, e assim mesmo a distância é suficiente para isolar tradições. Cada um vive a sua vida, celebra as suas festas – e essa entidade bailarina e pitoresca chamada “o Norte” é pura convenção literária de sulistas.
Falei em tantos lugares, e não falei no Ceará, minha terra, porque no Ceará praticamente não há são-joão.
Uma fogueirinha, uns fogos de vista nas mãos dos meninos ricos, “baile do chitão” nos clubes (instituídos há poucos anos em imitação aos que se fazem por cá), um raro balão, solto pelo bodegueiro do fim da rua, algum aluá, afilhados e compadres de fogueira, e as clássicas sortes para ver morte e casamento. Mas tudo isso há pelo Brasil inteiro, há aqui no Rio, e feito com mais convicção. Que nós, cearenses, somos gente de pouca comedoria e pouca festança; ainda estamos muito perto do tapuia bisonho, e sempre tivemos poucos negros, que são a alma das festas populares. Português e estrangeiro mal chegam lá e compram uma casa, vão virando cabeça-chata e tendo filho que não cresce mais de um metro e cinquenta. O sertanejo é sóbrio e triste – muitas vezes cético; poucos caboclos vão se dar ao trabalho de cortar lenha no mato para fazer fogueira. Cortar lenha, sim, mas a tantos cruzeiros o metro cúbico, por conta do fornecedor da estrada de ferro. Nem faz balões, nem estrói dinheiro com foguetes, nem guarda receita de quitutes. Lá para minha zona, no município de Quixadá, que já é sertão autêntico, o único festejo popular que apaixona e consome dinheiro e energias é o boi, ou os papangus – vadiação de Natal e Ano-Bom. Essa sim, tem ainda muita força no coração do povo.
Tem burrinhas com saia de renda, tem bois com chifres dourados, babaus enfeitados de fita de gorgorão, e os trajos do velho, do mateus, dos papangus são quase tão caprichados quanto os dos cordões de carnaval dos cariocas. Esses contudo não são a maioria, porque a pobreza mais pobre “vadeia” com bois de lençol remendado, papangus de pé no chão, “damas” vestidas numa saia velha e um lenço de chita lhe escondendo os atributos masculinos da cara – pois os costumes não permitem ainda a intromissão de damas de verdade no elenco dos reisados.
Isso tudo, porém, é nas festas do Nascimento. São-joão, meu Deus, é aquela displicência. Nós, em meninos, fazíamos fogueira – exigíamos a cessão de um dos “metros” de lenha que iam nas costas dos jumentos a caminho da estação do trem. E se havia milho-verde, comia-se milho assado à beira do fogo.
Aliás, mesmo nesses tenros anos da infância já as exigências da minha alma eram corrompidas pela literatura. Porque, então, um dos meus livros prediletos era uma tradução portuguesa dos contos de D. Antonio de Trueba, onde se descreviam os folguedos de São João e São Pedro nas aldeias espanholas; e eu tentava obstinadamente adaptar o nosso são-joão sertanejo àquele modelo ibérico. Queria que “bailássemos rondas”, fingia com aluá de milho os copos de jerez que eles bebiam nas histórias; punha um cravo no cabelo e oprimia terrivelmente irmãos, primos e moleques, obrigando-os a aprender uns versinhos que vinham no original numa nota à margem do livro, e aos quais ajeitei uma toada de modinha; começavam assim:
S. Juan, S. Pedro,
Santiago in medio…
Mas o que havia de mais abundante nos são-joões eram afilhados. Tínhamos legiões deles, e entre primos e primas havia uma contabilidade ciumenta, para ver quem os conquistara mais, ao pé da fogueira. Ainda hoje tenho afilhados com o dobro da minha idade, que tiram o chapéu, estendem a mão e me tomam a bênção em qualquer lugar onde me encontrem. Não me esqueço de certo dia em que eu ia atravessando a Rua do Ouvidor e um garboso fuzileiro naval cruzou comigo. Para surpresa minha o militar, ao me ver, parou, fez continência, depois arrancou o gorro de fitinhas, ergueu a mão no ar quase numa saudação fascista e disse aquela voz cantada da minha terra, que só de ouvi-la me aperta o coração de saudade:
– Abença, madrinha Rachelzinha!
(Sou a Rachelzinha, pois Madrinha Rachel era minha avó.)
Uns dois impertinentes, ao meu lado, riram. Mas o fuzileiro, imperturbável, recebeu minha bênção, deu e pediu notícias dos seus e dos meus, e passou, tão indiferente ao ridículo quanto um escocês com o seu saiote.
Só porque era um naval não ia perder o respeito à sua madrinha de fogueira.
Tem gente que não acredita em sorte de são-joão. Quando adolescentes, no colégio de freiras, fizemos sorte de bacia e sorte de clara de ovo. Na clara de ovo saiu que eu morria aos quinze anos – e me preparei para esse fim prematuro; fiz até uns versos de despedidas. Uma vez que não tinha amores, cuidei em morrer como uma virgem cristã, de capela de flores e vestido branco. Vieram contudo os quinze anos, e duas vezes quinze, e ainda estou penando por este vale de lágrimas. Mas na sorte da bacia saiu tudo preto – destino obscuro que teve interpretações variadas. Era morte, casamento infeliz, ou ficar para tia? Num velho livro de sortes, antiga edição portuguesa que arranjáramos não sei onde, dizia assim: “Cara preta na bacia – casamento com homem negro ou mouro”. Apeguei-me à ideia do mouro. Fazia-o belo e dramático: para me ajudar a imaginação lá estava, em todo o esplendor Shakespeariano, o modelo clássico de Otelo. E vim atravessando todos os revoltos e sofridos anos da vida, guardando a lembrança daquele mouro no coração; com o passar do tempo, cheguei quase à convicção de que os mouros haviam saído da história desde o desastre de Alcácer-Quibir, e esperar por mouros era o mesmo que esperar por D. Sebastião. Felizmente me enganava.
No Pará, quando eu tinha oito anos, deram-me à meia-noite, em véspera de são-joão, um banho de cheiro cheiroso, para ter boa sorte. Mas talvez as ervas fossem fracas, ou minha estrela negra muito forte, porque bastante demorou essa boa sorte para vir. Tomei depois muitos outros banhos de cheiro; tanta macacapuranga, catinga-de-mulata, priprioca, japana, mucuracaá, consumida à toa! – e agora, quando já desenganada das ervas eu me passara para os sais de banho ingleses, foi que a sorte mudou.
Entretanto, o melhor são-joão que passei na minha vida não foi em Belém do Pará, no Cariri ou na Bahia.
Faz três anos, foi na cidade de São Paulo, em tempo de frio e de garoa. Era uma sala sossegada; lá fora, no mundo, tragédias públicas e particulares explodiam como vulcões. Mas a sorte da bacia preta se cumprira: ao meu lado estava o mouro – afinal encarnado; rodava o dial do rádio, até conseguir, em vez dos jornais de guerra, um samba de Noel Rosa, aquele tristíssimo Último desejo, que começa falando em noite de São João e acaba dizendo: “O meu lar é um botequim…”
Poesia: o velho abrigo da alma
Profundamente
Manuel Bandeira
Quando ontem adormeci
Na noite de São João
Havia alegria e rumor
Estrondos de bombas luzes de Bengala
Vozes, cantigas e risos
Ao pé das fogueiras acesas.
No meio da noite despertei
Não ouvi mais vozes nem risos
Apenas balões
Passavam, errantes
Silenciosamente
Apenas de vez em quando
O ruído de um bonde
Cortava o silêncio
Como um túnel.
Onde estavam os que há pouco
Dançavam
Cantavam
E riam
Ao pé das fogueiras acesas?
— Estavam todos dormindo
Estavam todos deitados
Dormindo
Profundamente.
Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
— Estão todos dormindo
Estão todos deitados
Dormindo
Profundamente.
Nas trilhas da Educação…
1. Na última quarta-feira, Ex-ministro Milton Ribeiro é preso por suspeita de corrupção no MEC.
2. Vagas que serão ofertadas pelo Sisu 2022/2 já estão disponíveis para consulta no site https://acessounico.mec.gov.br/
3. I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTQI+ será realizado no Anfiteatro da ETEC “ Antônio de Pádua Cardoso” no dia 28/06/2022 – próxima terça-feira – a partir das 13h30.



