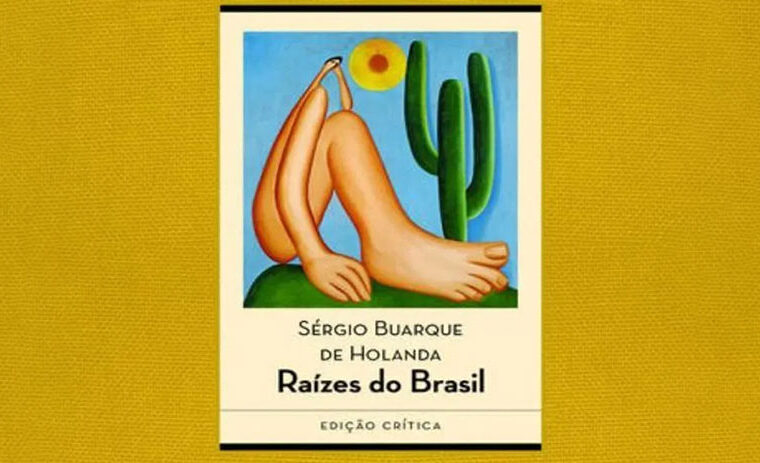Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda nos apresentou um conceito que o tempo não conseguiu desatualizar: o do “homem cordial”. Não se trata do sujeito gentil ou educado; ao contrário, o “cordial” é aquele que age a partir do coração, da emoção, do interesse pessoal. É o sujeito que mistura a esfera pública com a privada, transformando o Estado em quintal de casa ou, no caso, em herança de família.
A teoria ganha carne, osso e sobrenome na figura de Jair Bolsonaro e sua família. Durante os anos em que esteve na presidência, Bolsonaro não só levou seus filhos para o centro do poder, literalmente, como permitiu que eles agissem como se fossem herdeiros institucionais da República. A política brasileira, que deveria ser marcada pela impessoalidade das leis e pela liturgia dos cargos, virou palco de afetos, desafetos, panelinhas e proteção do clã.
Um exemplo é o caso das rachadinhas, envolvendo Flávio Bolsonaro. O uso suspeito do gabinete para benefício próprio, por meio de assessores fantasmas e devolução de salários, escancara o que Sérgio Buarque já apontava nos anos 1930: o brasileiro, especialmente aquele no poder, não vê o Estado como instituição, mas como extensão da família patriarcal. Outro exemplo é o loteamento de cargos no governo, sempre ocupado por amigos, ex-seguranças, ex-cunhados e irmãos de aliados. Não por mérito, mas por vínculo afetivo e fidelidade. A “cordialidade” brasileira, aqui, se transforma em clientelismo travestido de lealdade pessoal.
A lógica é simples e ancestral: se é “meu”, tem direito; se é “dos outros”, é ameaça. Também a ascensão pública de Michelle Bolsonaro, após o fim do governo, escancara outra faceta da cordialidade buarquiana: a política como herança conjugal. Enquanto o ex-presidente segue condenado, Michelle surge como figura política “do lar”, amparada por igrejas, grupos conservadores e, sobretudo, pelo capital simbólico do sobrenome. Não se trata de discutir sua capacidade, mas de observar o mecanismo patriarcal e emocional que substitui instituições por alianças familiares.
O discurso de Michelle, centrado em Deus, família e moral, reforça a ideia de que o poder público pode e deve ser operado com os mesmos valores da esfera doméstica. Uma república familiarizada, onde o cargo vira sucessão e o eleitor vira devoto.
Mais grave ainda é o papel de Eduardo Bolsonaro, o filho que age como se o país fosse quintal e o Congresso, trincheira. Recentemente, surgiram novas evidências do seu envolvimento em articulações antidemocráticas, reuniões com estrategistas estrangeiros e ações de bastidor para deslegitimar o processo eleitoral — tudo em nome da “família” e contra um “inimigo comum”: o sistema. Na prática, Eduardo age não como parlamentar da República, mas como filho de um líder ferido que tenta restaurar seu trono por outros meios. Aqui, o “homem cordial” descrito por Buarque se torna mais do que emocional: torna-se perigoso, porque coloca seus afetos acima da Constituição.
Jair Bolsonaro nunca escondeu que via o Estado como extensão do lar. Chamava ministros de “meus”, tratava jornalistas como invasores da sala de jantar e se orgulhava de proteger os filhos, independentemente do cargo. Isso não é liderança; é patrimonialismo disfarçado de carisma. O próprio comportamento do ex-presidente, sempre reativo, emocional e personalista, confirma esse traço. Bolsonaro nunca entendeu — ou nunca quis entender — o papel republicano que deveria exercer. Era um pai que defendia os filhos, um chefe que premiava os fiéis, um “capitão” que desprezava as instituições. Tudo muito cordial, no sentido mais buarquiano do termo.
A “cordialidade” descrita por Buarque, nesse contexto, vira método de governo: quem é da casa, entra; quem não é, sofre. O mérito perde para o sobrenome; a técnica, para a fidelidade; a República, para a família. O Brasil tem dificuldade de se tornar verdadeiramente republicano não porque lhe faltam leis, mas porque sobram laços pessoais no coração do poder.
A família Bolsonaro não inventou esse modo de operar — apenas o levou ao extremo, tornando visível aquilo que sempre esteve por trás da política brasileira: a velha confusão entre o que é do Estado e o que é do clã. Enquanto seguirmos com esse modelo de poder “cordial”, vamos continuar tropeçando nos mesmos erros: hereditarismo político, abuso de influência, uso do cargo como proteção familiar e, pior, a destruição das instituições em nome de afetos mal resolvidos.
No fundo, a família Bolsonaro não criou um novo modelo de poder no Brasil. Apenas escancarou e deu protagonismo a um modelo antigo, arcaico e enraizado, que Sérgio Buarque descreveu com clareza: o patrimonialismo emocional, onde a política é feita com o fígado, pela mão da casa, em nome da honra pessoal. Mais do que julgar indivíduos, é hora de reconhecer que a persistência dessa mentalidade não é acidente, mas sintoma estrutural. E enquanto confundirmos a função pública com a defesa da “família”, continuaremos presos à armadilha cordial de um país que nunca soube bem onde termina o lar e onde começa a República.